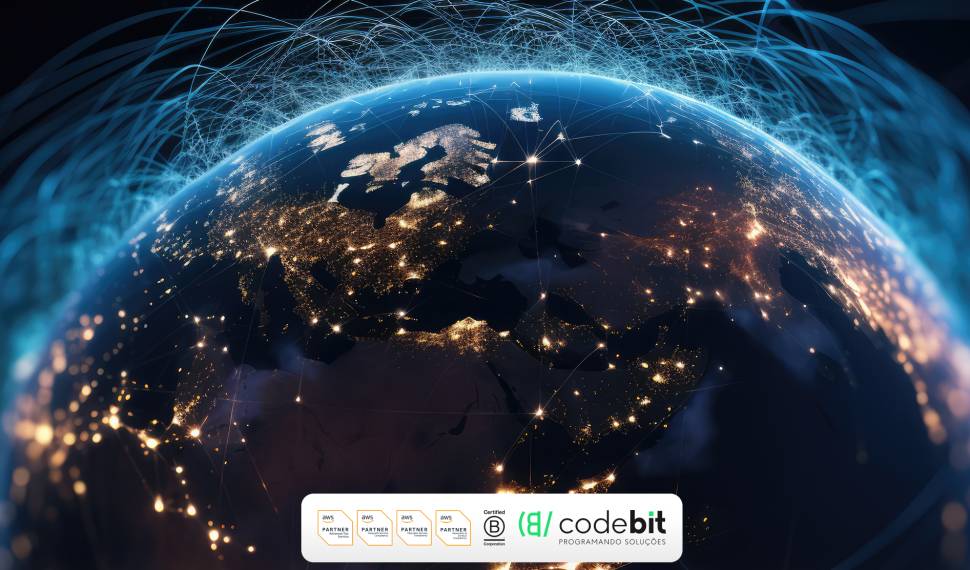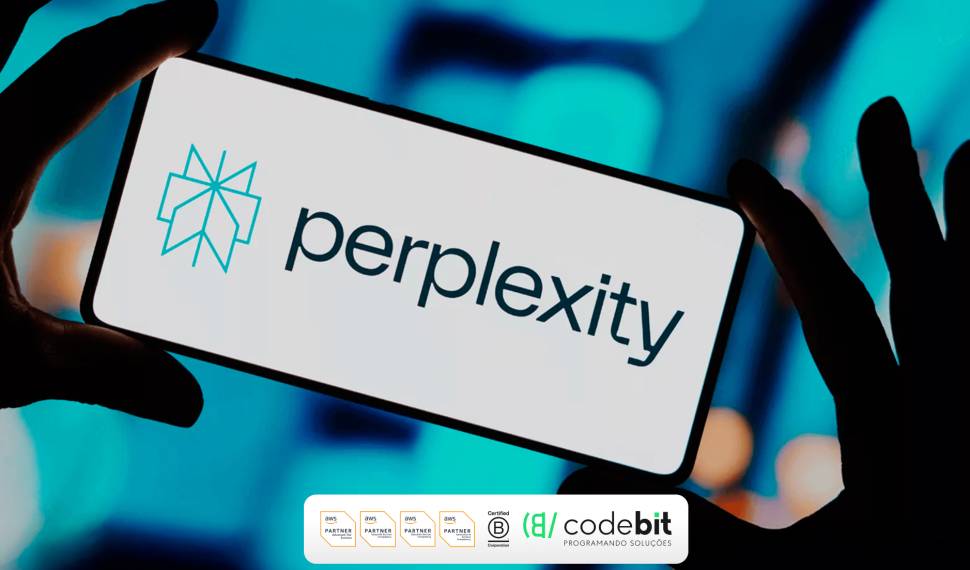O universo das redes sociais transformou a maneira como crianças e adolescentes se relacionam com o mundo digital. O que começou como registros familiares espontâneos rapidamente se tornou um mercado milionário: influenciadores mirins acumulam milhões de seguidores e movimentam contratos publicitários de grande porte. Mas, com a recente decisão judicial que proíbe Instagram e Facebook de aceitarem conteúdos de crianças sem autorização legal, surge uma pergunta central: a era dos influencers mirins chegou ao fim?
Uma discussão que vai além de algoritmos ou curtidas e toca em questões sensíveis como trabalho infantil, saúde mental, privacidade e adultização precoce.
A decisão que pode mudar o mercado digital infantil
Em agosto de 2025, a Justiça do Trabalho de São Paulo determinou que Instagram e Facebook não podem mais exibir conteúdo produzidos por crianças e adolescentes sem autorização judicial. A medida estabelece multa de R$ 50 mil por menor em situação irregular.
A decisão não surgiu do nada: ela reflete um cenário de crescente preocupação com a exposição de menores em redes sociais, onde a busca por engajamento e monetização frequentemente ultrapassa os limites do lazer e se transforma em atividade laboral precoce. Até então, a legislação trabalhista brasileira previa restrições claras em ambientes físicos, mas não abordava uma regulamentação específica para o ambiente digital.
Na decisão, a juíza Juliana Petenate Salles destacou que a produção constante de conteúdo pode gerar impactos graves, como prejuízos no rendimento escolar, sobrecarga emocional e riscos à saúde mental a longo prazo. Ainda que a medida caiba recurso, ela inaugura um novo estágio de responsabilização, englobando as plataformas, empresas e famílias que incentivam ou se beneficiam economicamente desse tipo de prática.
O outro lado das telas: quando a brincadeira vira trabalho
Durante anos, o debate sobre crianças e tecnologia concentrou-se no consumo: tempo de tela, vício em plataformas e riscos à saúde mental. Um tema que abordamos de forma completa em um artigo recente:
Leia também: Tempo de tela: qual o limite saudável para crianças e adolescentes?
Mas, enquanto essa discussão avançava, outro fenômeno crescia em paralelo: a profissionalização precoce de menores na frente das câmeras.
Pesquisas recentes mostram que influenciadores mirins enfrentam uma rotina que pouco se parece com brincadeira. Para manter relevância algorítmica, muitos são pressionados a postar diariamente, a seguir tendências e a interagir com desconhecidos em escala massiva. Essa dinâmica cria uma relação de dependência entre infância e audiência, em que curtidas e contratos publicitários substituem jogos e lazer.
Estudos em psicologia do desenvolvimento apontam que a exposição pública contínua acelera processos de adultização: crianças passam a lidar com métricas de engajamento, negociações financeiras e até ataques virtuais antes mesmo de compreenderem plenamente seus impactos. Essa transição precoce da brincadeira para o expediente traz consequências profundas, tanto emocionais quanto sociais, levantando uma questão central: até que ponto estamos transformando a infância em produto?
O que é Adultização? Um risco que ultrapassa o digital
A adultização — quando crianças passam a reproduzir comportamentos, estéticas e responsabilidades típicas de adultos — não é um fenômeno novo, mas ganhou escala inédita com as redes sociais. O chamado “efeito Felca”, vídeo-denúncia que expôs práticas de exploração e erotização precoce em conteúdos digitais, transformou o tema em pauta urgente, mobilizando tanto o Congresso quanto o Judiciário brasileiros.
O risco não se limita à aparência ou à performance diante das câmeras. Psicólogos do desenvolvimento alertam que, ao assumir papéis sociais ou pressões de performance incompatíveis com sua idade, a criança passa a carregar expectativas emocionais e sociais que aceleram a perda da infância. Isso pode resultar em quadros de ansiedade, baixa autoestima, distorção de autoimagem e até dificuldade de estabelecer relações saudáveis na vida adulta.
Outro fator agravante é a permanência digital. Diferentemente de outras formas de exposição, o conteúdo online não desaparece: ele pode ser replicado, remixado e compartilhado indefinidamente, estendendo os impactos da adultização para muito além da infância. Essa cicatriz digital compromete desde a privacidade até futuras oportunidades acadêmicas e profissionais, consolidando um problema que ultrapassa a dimensão individual e se torna também social e cultural.
O papel da sociedade
O debate sobre trabalho infantil digital vem deixando claro que a proteção de crianças e adolescentes não pode ficar restrita ao ambiente doméstico. Assim como no teatro, na televisão e na publicidade tradicional, a presença de menores em atividades digitais com fins lucrativos precisa ser regulada, monitorada e acompanhada por mecanismos de proteção adequados.
A procuradora Ana Elisa Segatti sintetiza bem esse raciocínio: “Se a criança precisa de autorização para subir ao palco, também precisa para aparecer em plataformas digitais com fins lucrativos”. Essa analogia ajuda a aproximar o público do problema e reforça a ideia de que o ambiente online não é “terra sem lei”, mas uma extensão das práticas já reconhecidas como trabalho infantil em outros setores.
Além da regulação estatal, o tema convoca uma ação mais ampla. Pais e responsáveis devem atuar como mediadores críticos do uso das redes; escolas podem desenvolver programas de educação digital e conscientização; jornalistas têm papel essencial em dar visibilidade às violações; e as próprias plataformas precisam investir em mecanismos de verificação, transparência e moderação. Em última instância, proteger a infância online é um compromisso coletivo: sociedade, Estado e empresas de tecnologia compartilham a responsabilidade de garantir que a internet seja um espaço de desenvolvimento, não de exploração.
O que diz a lei: ECA, Constituição e convenções internacionais
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece direitos fundamentais que protegem a dignidade, a privacidade e a integridade física e emocional de crianças e adolescentes. O artigo 149 é claro ao exigir alvará judicial para qualquer tipo de trabalho infantil artístico, abrangendo também produções digitais, como vídeos e transmissões em redes sociais.
A Constituição Federal, em seu artigo 227, reforça que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar, com absoluta prioridade, os direitos de crianças e adolescentes. Além disso, o Brasil é signatário da Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que define a idade mínima para admissão ao trabalho e estabelece proteção contra formas de exploração precoce.
Ou seja, a base legal para proteção da infância já existe há décadas. O que muda é a necessidade de aplicar essas normas ao contexto digital, considerando que as plataformas sociais se tornaram novos espaços de trabalho e exposição, exigindo responsabilidade legal, ética e social de famílias, empresas e governos.
Quando a monetização pesa mais que a infância
O fenômeno dos influencers mirins evidencia como a lógica das plataformas digitais pode transformar atividades inicialmente lúdicas em obrigações constantes. Quanto mais conteúdo uma criança produz, maior sua visibilidade e potencial de monetização, o que aumenta a pressão para manter frequência e engajamento.
Especialistas como Renata Tomaz, da FGV, destacam como essa dinâmica pode ser perigosa: “A plataforma vai dar mais destaque a quem produz muito, e isso pode transformar uma brincadeira em trabalho em tempo integral”.
Esse ciclo levanta um dilema ético relevante: até que ponto contratos publicitários, likes e seguidores compensam a perda de experiências essenciais da infância, como brincadeiras espontâneas, aprendizado informal e socialização com os pares? A reflexão mostra que proteção digital e regulação são fundamentais para equilibrar criatividade, desenvolvimento e segurança.
O movimento global pela proteção digital
A preocupação com a presença de crianças nas redes sociais é mundial. Na Austrália, foi aprovada uma lei que proíbe menores de 16 anos de criarem contas em plataformas digitais, medida de difícil aplicação, mas que revela a urgência do tema. O YouTube, por sua vez, já removeu canais inteiros, alguns com mais de 10 milhões de inscritos, após denúncias de exploração e exposição de menores. Na União Europeia, avançam propostas de regulação mais rígida sobre publicidade infantil e coleta de dados, reforçando a ideia de que o ambiente digital também deve estar sujeito a limites claros.
Nesse contexto, o Brasil dá um passo importante com o chamado PL da Adultização, aprovado no Senado em 2025. A proposta cria um marco regulatório específico para proteger crianças e adolescentes no ambiente online, alinhando o país às tendências internacionais e reconhecendo que a infância não pode ser tratada como mercadoria em busca de engajamento.
O que esperar do futuro
Com a decisão judicial contra a Meta e o avanço do PL da Adultização, abre-se um novo capítulo na relação entre infância e tecnologia. A proposta é regular e proteger, garantindo que crianças possam usufruir do ambiente digital sem que sua saúde, educação e dignidade sejam comprometidas.
O fim da era dos influencers mirins como a conhecemos não significa desaparecimento, mas sim o início de um modelo mais seguro, supervisionado e ético. Afinal, proteger a infância é também preparar cidadãos mais saudáveis e críticos para o futuro.
Na verdade, o que vemos é uma transformação da exploração desregulada para uma fase de maior responsabilização social, jurídica e tecnológica.
Se o digital já é parte indissociável da vida das novas gerações, cabe a nós, como sociedade, criar condições para que ele não seja um espaço de exploração, mas de aprendizado, lazer e convivência saudável.
Para se aprofundar no assunto, leia o nosso artigo sobre os impactos do uso excessivo das telas para crianças e adolescentes: Tempo de tela: qual o limite saudável para crianças e adolescentes?